 á dizia um personagem de um memorável filme (trago-o de memória, mas não o digo, nomeando-o, porque se este negócio aqui já começa com citação, há-de continuar um arremedo de enciclopédia de bolso formada por fascículos avulsos de periodicidade semanal) que, quando a lenda é mais forte que o fato, deve-se, sem maiores conflitos éticos, imprimir a lenda: e quem o diz é um editor de jornal, explicada assim essa sua “impressão”.
á dizia um personagem de um memorável filme (trago-o de memória, mas não o digo, nomeando-o, porque se este negócio aqui já começa com citação, há-de continuar um arremedo de enciclopédia de bolso formada por fascículos avulsos de periodicidade semanal) que, quando a lenda é mais forte que o fato, deve-se, sem maiores conflitos éticos, imprimir a lenda: e quem o diz é um editor de jornal, explicada assim essa sua “impressão”.
Como fato, de verdade, aqui, não há, não havendo como provar que há, ficando sua credibilidade (e, no seu rastro, a minha também) empenhada à fé, vamos logo, de uma vez, à lenda, sem nos importarmos com o fato(?) de ela ser forte ou fraca. A lenda é hebraica e fala de um anjo-sentinela colocado diante da porta do céu – uma boa colocação, até mesmo para anjos que, salvo o(s) mais caidinho(s), estão, por natureza, sempre “por cima” –, ali postados para ouvir as preces, os rogos, as orações humanas, conduzindo-as a Deus.
De fato, o que há de encantador nessa narrativa, e que a torna digna das melhores impressões, é que, ao saírem da boca dos homens, ou, simplesmente, quando caladas fundo, do seu coração, tais pedidos, esperança de salvação, seja para o inexorável da vida, seja para aqueles acidentes cotidianos, plenamente reversíveis em suas conseqüências, apesar da aparência imediata de serem fatais, exigindo, diante da fraqueza humana, pressa na cessação da dor, e cujo remédio custa apenas(?) um pouco de paciência, de algum estoicismo para suportar um dor a que já não nos acostumamos, à custa de tantos remédios disponíveis, até para males inexistentes (ainda), sendo, talvez, suficiente, para tal alívio, uma noite bem-dormida, chegam – os tais pedidos, orações, rogos, preces –, afinal, aos ouvidos do Senhor, ali entram e se transformam em...flores.
Só mesmo uma boa lenda é capaz de fazer um ramalhete oloroso, multicolorido das nossas súplicas chorosas, às vezes, insípidas, de tão repetitivas que são; inodoras, por tanto que aguardamos, sem muita paciência, a graça, sempre de nariz em pé, com a desculpa de estarmos com olhos para Ele voltados, calcando, assim, a humildade sob os próprios pés, como se não fôssemos nós os suplicantes (seja Ele uma lenda ou um fato sobre-humano), mas justamente (como Ele não pode deixar de ser) Deus o que (nos) roga, transformado, assim, em nosso dependente, não podendo “viver”, apesar de uma eternidade que Lhe é atávica.
Oh! anjo, guardai os meus rogos para que, ao chegarem ao seu divino destino, entrando-Lhe pelos ouvidos adentro, caminhando pelos labirintos do Senhor, caiam ali, suavemente, como um doce vendaval de pétalas que sacrificam a integridade da flor (tomara que isso não signifique cortes em meus pedidos, por se considerar que minhas orações ficaram sem sentido) em nome dessa metáfora, porque não se conhece, de fato, um vendaval de flores dispersas, sabendo-se, no máximo, a depender da força do vento, de um espetáculo de pétalas indo pelos ares.
Ouvi bem, ó anjo, o que vos digo, o que peço, anotando meu pedido com a atenção de um florista cuidadoso ao registrar uma encomenda e, sendo, ao mesmo tempo, o próprio mensageiro, o entregador do ramalhete, fazei com que esse buquê de súplicas caia em mãos certas, e ainda cuidai para que não fiquem, tantos rogos, por aí, mas que entrem pelos ouvidos de Deus: sei que, daí por diante, já é com Ele, tendo vós, ó anjo, de voltar para aquela porta, à soleira da qual não cessam os pedidos, acumulando-se em montes de necessidades humanas, mesmo que algumas travestidas de expectativas ascéticas, e, curiosamente, pedidos, preferencialmente, “sem conta”, sem tempo, vós, apesar de vossa eternidade, para “pegardes” um cineminha, para assistir a um filme cheio de estrelas – o que, para vós, não deve ser nenhuma novidade, conhecendo-as, pela proximidade, todas elas, até chamando-as pelo nome, coisa que nós, humanos, não sabemos fazer, nomeando, quando muito, as estrelas mais famosas, como a Estrela d’Alva e as do Cruzeiro do Sul, com a eterna cruz que carregam, exceto, claro, os homens que, principalmente, no escuro, dedicam-se, abdicando do cineminha, ao estudo do que se passa no céu, jamais, porém, seus olhos tão científicos alcançando-vos, por mais potentes que sejam suas lentes de aproximação, ó sentinela celestial, guardião da entrada do paraíso, ouvinte atento (mais do que no ouvinte, minha esperança reside em vossa atenção) das nossas orações.
As minhas, apesar de abundarem aqui, são muito caladas, assim, em meu peito, o que, não raro, faz com que sejam confundidas com uma distância voluntária, e exigem, talvez por serem tão tácitas, muita atenção para que, como um perdoável fofoqueiro, possais, ó anjo-só-ouvidos, cochichá-las ao pé-do-ouvido de Deus, semeando, desse modo, uma futura flor, ainda que essa súplica se resuma ao desejo de ostentar uma coroa ou de ter, de tiaras que portamos à nossa própria revelia, subtraído, ao menos, um espinho.
E para o caso, fato bastante possível, mais do que provável até, de esta lenda, por não ser repetida, já andar um tanto surda, descerro meus lábios, ainda que continue confiando no valor do (meu) silêncio, e, com o auxílio de uma língua que mais me domina do que eu a ela, tentando riscar, uma a uma, a lista inteira de dúvidas, a ponto de não restar um só sequer, e...quase te desejo (e, agora, já não me refiro ao anjo em segunda pessoa do plural, mas a ti mesmo, meu paciente leitor – que até podes ser um...anjo), a meu bel-prazer, o que julgo que é o teu desejo.
Como, assim, de uma só vez, planto, genericamente, uma só flor no ouvido de Deus, deixo que parta de ti o envio, a Ele, de tuas súplicas, dos teus pedidos, dos teus rogos, em orações curtas ou tão alongadas quanto as minhas, pois, em lugar de uma, por mais sincera flor que seja, aqueles subidos ouvidos tornar-se-ão um jardim. Mas que, em meio a tantas, possas sempre identificar a flor que é particularmente tua.
Amém!
segunda-feira, dezembro 01, 2008
SEM SEGREDOS
sábado, novembro 01, 2008
REQUIESCAT IN PAX

 squeçamos os mortos!...e não, com a desculpa egocêntrica, porque (nós) estamos vivos, embora esquecimento e lembrança sejam possibilidades só compreensíveis, se se está vivo. É que a morte é o outro nome do esquecimento; e querer lembrar o que já morreu é tão bizarro (cada qual com sua esquisitice) quanto não lembrar os vivos, ainda que, não sem freqüência, digamos, com sinceridade que não pode, de pronto, ser medida com precisão, que há mortos que permanecem tão vivos, ocultando, como um pensamento enterrado ainda em vida, que não são poucos os vivos que parecem mortos - e pelo esquecimento que desaba sobre alguns, inumados e com uma pedra em cima. Aliás, é só mesmo uma pedra comum, sequer com intenção de ser um marco, um sinal que torne fácil um futuro reconhecimento, mas apenas um peso para que o esquecido, com o vento, não levante voo, de novo, e acabe por pousar, outra vez, em nossa cabeça; é uma pedra no nome, mas não é uma lápide, apesar da situação em que se encontra, com palavras escritas, não comportando nem mesmo um nome, legível no começo, fatalmente apagado com o tempo, seja a tal pedra comum de verdade ou um pedaço de mármore falso.
squeçamos os mortos!...e não, com a desculpa egocêntrica, porque (nós) estamos vivos, embora esquecimento e lembrança sejam possibilidades só compreensíveis, se se está vivo. É que a morte é o outro nome do esquecimento; e querer lembrar o que já morreu é tão bizarro (cada qual com sua esquisitice) quanto não lembrar os vivos, ainda que, não sem freqüência, digamos, com sinceridade que não pode, de pronto, ser medida com precisão, que há mortos que permanecem tão vivos, ocultando, como um pensamento enterrado ainda em vida, que não são poucos os vivos que parecem mortos - e pelo esquecimento que desaba sobre alguns, inumados e com uma pedra em cima. Aliás, é só mesmo uma pedra comum, sequer com intenção de ser um marco, um sinal que torne fácil um futuro reconhecimento, mas apenas um peso para que o esquecido, com o vento, não levante voo, de novo, e acabe por pousar, outra vez, em nossa cabeça; é uma pedra no nome, mas não é uma lápide, apesar da situação em que se encontra, com palavras escritas, não comportando nem mesmo um nome, legível no começo, fatalmente apagado com o tempo, seja a tal pedra comum de verdade ou um pedaço de mármore falso.É da natureza dos mortos serem esquecidos, se ainda pudermos lhes atribuir uma natureza, sendo mais provável, indiscutível a nossa, ser da natureza dos vivos esquecer...e não só os mortos.
Pode-se argumentar - esse desperdício de tempo a que muitos vivos se dedicam, refletindo sobre os mortos - que sem a lembrança desses mortos não haveria história, sendo da "natureza" desta, constantemente, sem que torçamos o nariz para isso, sem que (re)viremos os olhos para não testemunhar tal espetáculo (escatológico?), exumar o que já foi, devidamente ou em valas comuns, sem qualquer pedra indicadora, enterrado: já não basta o que nossa memória tem de suportar, com vivos em progressão, alguns com nomes repetidos, o que exige um esforço maior de individualização, como se fosse necessário identificá-los com uma pedra diferente, para ainda nos obrigarmos a acumular esqueletos nesse armário que é a memória, eventualmente com um fundo falso, mas do qual, pela sobrecarga a que está submetida a memória, nos esquecemos, às vezes "mortos" de vontade de encontrar uma saída dessas, falsas que sejam, uma ligação secreta entre um armário encostado à parede, em pleno uso do seu direito de ser esconderijo, e um outro cômodo no qual poderíamos nos encontrar (secretamente, claro!) com um vivo que não pode aparecer, ou onde poderíamos esconder um morto que desejamos esquecer, mas que insiste em (nos) aparecer, a todo instante, com suas lembranças.
Se mortos, os mortos o são e nada mais: lembrar o quê? Se vivos, esses mesmos "mortos", em outra dimensão (como se houvessem sido trancados num armário, com a intenção de ser isso para sempre, e descobrirem ali o fundo falso da vida - ou o verdadeiro fundo da morte - e fizerem a "passagem"), deixemo-los, de todo jeito, para lá, porque, lá (no fundo, todos gostaríamos de nisso acreditar), de nada adiantam as nossas lembranças daqui, e insistir nisso é como, a todo instante, assustar quem já passou pelo armário, desse para "lá", com a possibilidade de voltar a ser só mais um esqueleto no armário, esquecido lá ou apenas lembrado...como o quê?
sábado, outubro 11, 2008
QUIDES
Houve tempo (que ainda resiste em certas lembranças: diretamente, pela lembrança de uma experiência vivida, mesmo que, então, não se fosse seu protagonista, um herói covardemente atacado por um bando de minúsculos, mas asquerosos, inimigos, ou através de lembranças indiretas, podendo ser estas apenas um testemunhar, como simples espectador, sabe-se lá se se identificando com as agruras do herói ou com uma experiência já bastante diluída para que ainda se a tenha como própria) em que se "catava" piolhos na cabeça das crianças, e nesse mesmo tempo, imagina-se que, fora eles, elas, as crianças, não tinham mesmo nada "ali", o que, por extensão, nos leva à moralista conclusão de que nada de mal existe na cabeça de uma criança; e as teorias vigentes de que a coisa, para o bem ou para o mal de todos nós (que, afinal, fomos uma delas), não é bem assim, que toda criança, além dos piolhos, já naquela época, tinha (n)o que pensar, tanto que davam no que pensar, e ainda que, mesmo sem moralizar o ato, houvesse os piolhos, um mal que as atacava, havia, por outro lado, tão "à mão", quem os catasse, com bravura materna de quem, para salvar o filho, não descansa enquanto não esmagar cada inimigo, um a um, lutando até o fim, com unhas, sobretudo com elas, e dentes rangendo num misto de raiva pelos piolhos escapados e prazer pelos que são subtraídos sob o peso de sua unha.
E a vitória seja dada às mães! E louvadas sejam suas mãos! Relíquias sejam considerados seus dedos milagrosos! E não duvido de que uma lasca dessas suas unhas, sujas desse trabalho de morte, ainda faça o milagre de que um filho extraviado, tendo deixado tanta coisa lhe passar pela cabeça, pela lembrança rediviva, talvez reanimado por uma coceira repentina na cabeça, experimente, ao longe, onde estiver, essa volta ao lar - e se o "motivo" não parece dos mais elevados, os resultados desse regresso o legitimam, até porque é muita falta de originalidade, com tantas lembranças na (nossa) cabeça, recorrer sempre a uma "madeleine" (coisa da cabeça de Proust: mas isso já é uma outra leitura).
Se era assim, hoje, como piolhos, crianças que foram, há os que, "tachados" de maus, de cara, sem que se ocupe com o que lhes vai pela cabeça (embora seja um recurso demasiado fácil, e nem sempre justificável, buscar no "mau" de cada homem uma criança vilipendiada, seja por um ataque indesejável de piolhos, seja, com sua própria defesa, pela falta de mão de mãe sobre sua cabeça: nunca se fala do poder da unção paterna), catam crianças.
E catam-nas pelos precipícios que não faltam, pois é mesmo da natureza de toda criança sentir-se atraída por essas visões perigosamente sedutoras; sejam tais precipícios naturalmente desenhados, um relevo que ali está, perigoso, sedutor, talvez, originalmente, apenas uma notação topogeológica num cume de um nada, sem maior "moralidade" e que, com o desbastar provocado pelo tempo, ficou assim, assemelhando-se a um abismo.
Seria precipitado - e já não somos crianças para abusar disso -, chamando-os, esses catadores de crianças, de piolhos da sociedade, querermos, atirando no abismo voraz todo o conhecimento que muito custou a tantas cabeças, a custa de muitas coceiras, retóricas ou não, esmagá-los, um a um (porque se multiplica, assim, o deleite com esse espetáculo), com as mães na linha-de-frente, já que elas sempre fazem boa figura, mesmo que jamais se tenham (pre)ocupado com o que se passava na cabeça de suas crianças, mal sabendo a origem das coceiras próprias.
Não! não nos esqueçamos, deixados de lado outrora, ocupados com inimigos maiores para darmos atenção a simples piolhos, ( "raspem a cabeça desse moleque, e pronto!"), dos pais, dos homens nessa história toda.
Declarada a guerra, com as mães levando os estandartes, que elas dizem ter tecido, ainda que não saibam segurar uma agulha (e isso não é uma alfinetada misógina), com o lema "salvem nossas crianças", "morte aos piolhos (da sociedade)", seguem-se, seguindo-as, os pais, os homens honrados que, aliás, estão ali justamente para emprestar a essa guerra sua honradez, da qual se crêem fiéis e exclusivos depositários: quantos já se aproximaram de precipícios? quantos, vendo a coceira na cabeça de uma criança, ocuparam-se dela? quantos, simplesmente, cortaram-lhes a cabeça? quantos sabem o que se passa na sua própria? quantos não se "precipitarão"?
A morte, pura e simples, dos piolhos acabará com o mal? Isso não sei: nem sou pai! E, mesmo homem, não conheço todos os meus precipícios - embora muitos nem me passem pela cabeça.
quarta-feira, outubro 01, 2008
O QUE OS OLHOS NÃO VÊEM...
As bochechas, recheadas com chumaços de algodão, de Dom Corleone nunca me enterneceram: seu olhar, sim – mas, sentimental, me enterneceria com qualquer avô, por mais descarnado, por mais que suas faces não apresentem maçãs (a fruta, a essa altura, é outra, guardada, há tanto, como se sabe, na devida gaveta), ainda que se mostre, essa mesma face, tão chupada. De Brando, lembro-me de o ver desenhado, sob a justa camiseta, inaugurando uma moda, como se fosse eu um passante habitual daquelas ruas, sempre tomando o mesmo bonde, chamando assim ao meu desejo de, entrando numa máquina do tempo, viajar, sem sair do lugar, o que, de resto, já faço na poltrona que me cabe.
Aquele Kovalski, “sarado”, em meio às “doenças” de Blanche, da sensatez de (sua) Stella, rodeado por uma América tão distante dos nossos sonhos (dos que, entre nós, um dia, sonhou com ela), tão próxima do mundo que mais conhecemos (porque, antecipando-me, sabemos bem a “Cor do Dinheiro”), é a própria imagem da juventude, espécie de atualização, a sua época, do ideal cultivado nos ginásios gregos, para deleite de filósofos que encobriam, sem nenhum bonde à vista, seu desejo, semelhante ao de qualquer homem ignorante, inclusive (caro Sócrates) de si mesmo.
De Paul Newman, à parte seus músculos, ficou-me a face – e nela, como se, soberanos, usurpando a atração de quaisquer outros traços ali, os olhos, imperando, solenes, carregados de uma humanidade de fantasia, porém, enxergando, como olhos de qualquer outra cor, as misérias do mundo. Deste, a carência de escândalos, só os havendo na medida necessária para, dissipadas algumas fantasias de celulóide, manter vivo o mito, manter mítica a vida. Daquele (outro), como esquecer seus dissabores, suas tragédias pessoais, seus refúgios tropicais, suas mulheres exóticas, e, sobretudo, o que nos faz chegar perigosamente perto do (nosso) próprio drama de existir, a transformação do corpo, no rastro do tempo, tornando, hoje, irreconhecível o belo de ontem.
Adeus dá-se a um sonho, a uma fantasia, como se, dissipando-se, seja porque a vigília cobra esse alto preço, seja porque, vigilantes, temos de trocar de máscara, soubéssemos que, findo um, finda outra, não mais os (re)encontraremos. À realidade damos um até breve, já que, a nossa própria revelia, sabemos que, mais dia, menos dia, haveremos de a encontrar, novamente.
Adeus, Paul! Até breve (como é a vida, porque longa só mesmo a arte, já dizia o grego Hipócrates), Brando!
quinta-feira, agosto 21, 2008
BAT’EU LEVOU

 ascarados, no fundo, mesmo que isso seja, essencialmente, algo superficial, somos todos, e não é preciso se fazer um carnaval por causa disso, por mais que alguns, nós também, eventualmente, usemos isso para estampar, na cara de outro, sua insinceridade, mesmo que, então, fique-se constatado que essa (aparente) multiplicidade de eus mal esconde uma singular procura por (um) nós, a ponto de, tomados por tal necessidade, às vezes, um nome mais natural para uma exigência artificial engendrada pela sociedade, enxergarmos um nós onde mal há um só eu, por inteiro, havendo, tão-só, fragmentos de um eu que, combinados entre si, de maneiras variadas, caleidoscópio ao acaso, ao sabor de quem olha, dão a impressão de serem muitos (eus). E é preciso muita atenção, porque mesmo quando há, verdadeiramente, vários eus, isso nem sempre é bastante para que se tenha, ao menos, um nós, nem mesmo um que já esteja fragmentado.
ascarados, no fundo, mesmo que isso seja, essencialmente, algo superficial, somos todos, e não é preciso se fazer um carnaval por causa disso, por mais que alguns, nós também, eventualmente, usemos isso para estampar, na cara de outro, sua insinceridade, mesmo que, então, fique-se constatado que essa (aparente) multiplicidade de eus mal esconde uma singular procura por (um) nós, a ponto de, tomados por tal necessidade, às vezes, um nome mais natural para uma exigência artificial engendrada pela sociedade, enxergarmos um nós onde mal há um só eu, por inteiro, havendo, tão-só, fragmentos de um eu que, combinados entre si, de maneiras variadas, caleidoscópio ao acaso, ao sabor de quem olha, dão a impressão de serem muitos (eus). E é preciso muita atenção, porque mesmo quando há, verdadeiramente, vários eus, isso nem sempre é bastante para que se tenha, ao menos, um nós, nem mesmo um que já esteja fragmentado.Escondidos – e isso só pode ser “no fundo”, mesmo que não se se enterre no ponto mais profundo do esconderijo – todos nós, se não somos, ficamos, ora saindo, olhando, antes , para um lado, para o outro, acreditando estarmos fora de perigo, sendo que, nesses momentos, é possível que, pondo a cara para fora, estejamos mais escondidos do que nunca; ora nos mantendo no esconderijo e, cada vez mais, aprofundando-nos nessa caverna, sempre na crença de, assim, escaparmos ao perigo, seja este o de, eu convicto de sua própria inteireza, fragmentarmos-nos, jamais retornando esse eu a sua integridade, que pode nunca ter passado de uma fantasia, ou seja o perigo de, já múltiplo o eu, perder essa sua pluralidade, seduzido pelo encanto de um nós que, sendo, rigorosamente, mais de um, dois, ao menos, pode, no fundo (sempre no fundo), ser menor ainda que um indivisível fragmento d’eu.
A eterna fantasia, que não sai de moda, entra carnaval, sai carnaval, nesse entra-e-sai que é típico das fantasias de carnaval, às claras, sem que se julgue necessário esconder-se numa caverna, é de que, tendo entrado num lugar assim, gruta que seja, dela se saia, irreconhecivelmente, amado, mesmo que toda essa mudança de personalidade se sustente numa meia-máscara, colada, precariamente, ao rosto, sempre na iminência de cair – e, como se não fosse suficiente o incidente em si, com as revelações que advêm de queda assim, ainda por cima, reitera-se, com um banal “a máscara caiu”, mais um lugar-comum.
Escorregar – numa versão "camp" – por um poste, de alto a baixo, já que o contrário é uma escalada (na vida) a que poucos é dada, pelo esforço que requer, impondo, como exige a “lei”, uma resistência ao ditado que apregoa a disponibilidade dos santos em prestar seu auxílio para baixo, não muda, significativamente, um eu, apesar do potencial “significativo” de uma imagem assim, ato sob suspeita para quem crê que prova de virilidade inconteste não é descer, escorregando, mas escalar uma superfície escorregadia, demonstrando, porém, e a sua própria revelia de viril sem dúvida, quão pouco conhece, mesmo que saiba muito acerca de postes, inclusive dos “significativos”, a respeito das subidas e das descidas a que está sujeito qualquer um de nós, como um milionário sedutor que vira, ainda que permaneça milionário, um asqueroso mamífero que se disfarça (como se precisasse de máscara) de ave, só por poder voar, ou como um míope ao extremo, que não enxerga um palmo diante de si, necessitando de radar para todos os passos que dá, por mais milionário que seja, não conseguindo seduzir um só espectador, a fim de o convencer de que essa sua vida de morcego pode dar um filme – até, num otimismo de fantasia, com várias continuações.
domingo, agosto 10, 2008
MEU CORPO QUE É DADO POR VÓS
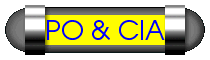
 ode ter sido qualquer outra ave, que ainda há muitas pelo ar, qualquer uma, mas prefiro pensar que tenha sido mesmo uma garça para, sobrecarregada essa minha imaginação dada a viagens aéreas, a vôos numa imersão crepuscular, emergindo só com a aurora, sem que eu consiga o que fiz nesse intervalo explicar, planando assim num céu de fantasia (há mais de um, ou isso não passa de “mais uma” fantasia?), a ela – garça, não esqueçamos – arrancar a pena, até agora não mencionada, embora, iterativo em meus arroubos pelos ares, não seja lá muito difícil de se (ora!) “imaginar”, provando que não só eu que dou asas à imaginação, e descobrindo, nesse vôo, que, mesmo sem nos depararmos em cruzamentos, fazemos roteiros semelhantes.
ode ter sido qualquer outra ave, que ainda há muitas pelo ar, qualquer uma, mas prefiro pensar que tenha sido mesmo uma garça para, sobrecarregada essa minha imaginação dada a viagens aéreas, a vôos numa imersão crepuscular, emergindo só com a aurora, sem que eu consiga o que fiz nesse intervalo explicar, planando assim num céu de fantasia (há mais de um, ou isso não passa de “mais uma” fantasia?), a ela – garça, não esqueçamos – arrancar a pena, até agora não mencionada, embora, iterativo em meus arroubos pelos ares, não seja lá muito difícil de se (ora!) “imaginar”, provando que não só eu que dou asas à imaginação, e descobrindo, nesse vôo, que, mesmo sem nos depararmos em cruzamentos, fazemos roteiros semelhantes.Pensei, sim, num pelicano, pela lenda que o envolve, atribuindo-lhe uma paternidade capaz de levá-lo a uma automutilação para alimentar os filhotes, quando só se fala dos sacrifícios maternos, numa nutrição que, apesar de uma sucção eventualmente mais dolorosa, não é comum que tire pedaços. Preferi, contudo, deixá-lo de lado, até porque já me lancei mesmo sobre eles tantas vezes, com tamanha voracidade, para lhes subtrair penas, aumentando-as talvez, que até poderiam me confundir com um filhote-da-puta, cruel, egoísta, incapaz de buscar o peito paterno para anestesiá-lo, sei lá com que tipo de ungüento tópico, minorando seu sofrimento, se não pela retirada de algumas de suas “penas” (porque, por humana contradição, essa “arrancada” dói), que todos, pais ou não, as temos, uns mais “à mão” do que outros.
As garças, que, aparentemente, em nada se parecem com (os) pais, embora haja, no feminino desse substantivo, sobrecomum no gênero, pais que o são, umas garças, sem desdouro nem para a virilidade deles, nem para o design graciosos “delas”, são aves peraltas, mais ariscas, pareciam-me, então, uma alternativa mais segura, até onde uma aventura dessas pode ser, na tentativa de adquirir minha própria pena: e que não se pense, dando muita asa, demasiada mesmo, à própria imaginação, que faço esse trajeto terra-ar-terra, com todos o riscos inerente a vôos espaciais, apenas para ir ao encontro de um auto-sacrifício, mutilando meu peito só para ter, tão figuradamente, as sensações características de uma paternidade que sequer sobrevoa minha cabeça, sem nenhuma garantia de vir a ser, com o tempo, uma honorável citação, um verdadeiro exemplo de pai.
Mas, não temais, ó corações apiedados deste meu fardo (de penas, e talvez ainda mais pesado quando de penas carentes: só a mão sabe o que é isso!), deste meu fado de escrever (demais – daí a necessidade de tantas penas), quase já a ponto de me tomardes, apiedados corações (oh!), por pelicano rodeado de famintos, tendo de alimentar, com meus dedos, toda essa família de pelicânidas. Não temais! Sei carregar meu fardo, meu fado (e uma letra a menos no fado não altera o peso da carga). O que talvez eu não saiba fazer é (me) dizer sem penas, preferindo, em visual comprometedor, aparecer todo emplumado, mesmo que o preço de tantas plumas acabe por me depenar, tão distante já o tempo em que, mais pelas asas (dada à imaginação) do que, propriamente pelas penas, achava-me um anjo, cheio de uma graça que faria inveja a mais garbosa das garças, longilínea em suas pernas altas, erroneamente confundida, às vezes, com uns gambitos quaisquer.
Hoje, pesa-me a pena de ter de recorrer a uma garça, essa espécie de ave-trocadilho. Pesa-me ainda mais, como se pelicano no auge do banquete que oferece, em si, a outras bocas, sentisse em meu peito calvo as bicadas do fado, sorte que, por mais antiga, é sempre filhote, que as palavras que escrevo sejam, mal dissimuladas, a tentativa de experimentar, por tê-las gerado, com gozo real, ainda que solitário, uma paternidade de metáfora.
Fico a imaginar, com o resto de asas que (ainda) me sobra(m), que, se sou flagrado em pleno ar, perdido num entardecer, a um passo de navegar em delírios, hão-de pensar: esse nunca foi pai!...o mesmo que, possivelmente dizem de um pelicano recém-saído de um festim, peito aberto, filhotes fartos, atribuindo, contudo, ao mesmo, sem poderem, a essa “altura”, dizer, com certeza anatômica, “dele” ou “dela”, que ali vai uma verdadeira mãe, que há-de ter acabado de dar o peito, coberto de penas, à ânsia natural da filharada.
sábado, julho 19, 2008
SENTA AQUI, E VAMOS ASSISTIR A "Stand by Me"

Amigos, amigos. E o negócio é que, à parte eles, nada resta de lucrativo na vida. Tutti amici, mesmo que não o sejam todos entre si.
Talvez, pensando mais em si mesmos, haja amigos (de quem?) que se orgulham de ter os seus, e muito, com uma disposição que dá a impressão de que existem, de que vivem só para isso, para ajudá-los, esses seus amigos, em caso de necessidade (quem não as tem?), sem que precise chegar ao extremo de uma extrema necessidade (embora muitos a tenham), porque chegar a esse ponto nenhum dos seus tantos amigos há-de deixar: e estes são do tipo (de amigos) que contam os seus à mão cheia, juntando as duas; e mais, se (as) tivessem.
Outros, de um outro tipo (de amigo), o que não os exime de pensarem também em si mesmos, gozam a vida por contarem com o afeto dos (seus) amigos, e, entre estes, há um sub-grupo que, sobre os seus (seus amigos, seus afetos, seu afeto por seus amigos), nada contam, embora, intimamente, contem com a inexatidão característica dos afetos, os que têm: tanto à mão (porque a mão é um forte elo de afeto entre amigos), quanto os que estão a léguas (e, nesse caso, o afeto tem a função de uma mão, atravessando o espaço, a puxar o amigo para mais perto).
Um outro sub-grupo do grupo de amigos que pensam nos seus (quando não estão pensando em si), com base no afeto, conta, para quem quiser lhe dar ouvidos, muito sobre seus amigos e seus afetos – tanto afetos seus, quanto afetos de seus amigos, que eles julgam, por um cálculo extensivo a si mesmos, amigos sub-agrupados aqui, serem, igualmente, afetos seus.
De todos – e não sei quantos são –, quem faz melhor negócio, se os amigos que cultivam amigos com uma perspectiva mais pragmática (“Se eu precisar de ajuda, sempre posso contar com meus amigos”) ou os que enxergam os seus pelas lentes do afeto (entre estes, os que contam e os que não contam, a respeito dos amigos que têm), eu não sei responder.
Se alguém tem amigos, o negócio já está feito – e já começa lucrativo. Mas, à parte a rentabilidade, apesar desta fazer parte do negócio (assim se deseja que seja), quem sabe se não seria melhor uma postura mais conservadora, sem apostar todas as fichas no risco elevado dos afetos, tão voláteis, por natureza, pois estes, que, um dia, fazem ninho, pondo aí a promessa de reprodução em série, outro dia, simplesmente, voam – porque são assim, porque isso é de sua natureza, sem que se queira dizer, com sua decolagem, que não são os amigos que se imaginou.
Embora amigos sejam, sim (e não me virem a cara, ao me ouvirem dizer isso, meus amigos mais românticos), um negócio, e dos bons, nosso poder de escolha está limitado pelo desejo do outro (em ser nosso) amigo. Mas há algumas combinações possíveis. A primeira, amigo pragmático + amigo pragmático. Segunda, amigo pragmático + amigo afetuoso. Terceira, amigo afetuoso + amigo afetuoso.
E não nos iludamos com supostas afinidades entre iguais ou com a velha idéia de que os opostos sentem uma irresistível e recíproca atração: é preciso considerar a pessoa do amigo, a pessoa sob o amigo.
Dito tudo isso, assim como foi dito, surge, de repente, a amizade, como um intrincado negócio que envolve sofisticados cálculos, mesmo quando se trata de “simples amigos”, a quase requerer uma matemática todo-própria, uma engenharia financeira genial para se poder chegar a um bom resultado.
E talvez, afinal, só haja mesmo...amigos. Essa espécie de título de capitalização que ora nos esquecemos de tê-lo “comprado”, empenhando nossas esperanças num futuro mais tranqüilo, pensando em seu resgate só no caso (que não esperamos experimentar) de extrema necessidade, ora esquecemo-lo, de caso pensado, por simples cálculo, mas não para assim deixarmos de lado o amigo, e sim para, título com seu nome, não o esquecer jamais, em meio a tantos “negócios”, à parte as negociatas em que nos envolvemos, mesmo involuntariamente.
Importa é que falemos de amigos, falemos de afeto(s), e até, pragmáticos que sejamos, misturado a tudo isso, que falemos de nós mesmos. Afinal, somos ou não somos...tutti amici?
sexta-feira, julho 04, 2008
CHOREI, CHORARE
![]()
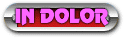
 á tinha ouvido falar, embora jamais tenha presenciado cena assim – comovente para uns, para outros, apenas apelativa – das lágrimas de crocodilo, nunca me tendo atracado com um, mesmo que para um exótico abraço, pressionando, por fora, aquelas suas glândulas que, como mecanismo precisamente acionado durante a comilança sem requintes de civilidade, fazem-nos, a indivíduos desse gênero (para não dizer a gente dessa raça), verter lágrimas: o que, a nossos olhos tão dados a paixões exacerbadas, parece um chororô sofrido, que nos toca profundamente, quase a nos levar a uma carícia na cabeça do bicho, sem, então tomados pela emoção, atentarmos para o risco, ali, tão próximos como já nos achamos de suas instintivas presas, presos nós por alguma culpa sem nome, predador esse crocodilo que, numa experiência sensacional, vai ao pranto justamente por estar gozando do alimento necessário – já que, em se tratando de ser que não homem, dizer do alimento que é o “desejado”, é já apelar para uma prosopopéia.
á tinha ouvido falar, embora jamais tenha presenciado cena assim – comovente para uns, para outros, apenas apelativa – das lágrimas de crocodilo, nunca me tendo atracado com um, mesmo que para um exótico abraço, pressionando, por fora, aquelas suas glândulas que, como mecanismo precisamente acionado durante a comilança sem requintes de civilidade, fazem-nos, a indivíduos desse gênero (para não dizer a gente dessa raça), verter lágrimas: o que, a nossos olhos tão dados a paixões exacerbadas, parece um chororô sofrido, que nos toca profundamente, quase a nos levar a uma carícia na cabeça do bicho, sem, então tomados pela emoção, atentarmos para o risco, ali, tão próximos como já nos achamos de suas instintivas presas, presos nós por alguma culpa sem nome, predador esse crocodilo que, numa experiência sensacional, vai ao pranto justamente por estar gozando do alimento necessário – já que, em se tratando de ser que não homem, dizer do alimento que é o “desejado”, é já apelar para uma prosopopéia.
Vá lá: jacaré! isso ainda passa, ainda que eu não seja daqueles que, para demonstrar, publicamente, uma coragem que na verdade não tem, faça qualquer questão de passar por perto de um. Mas, uma águia...isso já é demais para nossas assentadas noções de altivez. Afinal, onde foi parar aquele olhar arguto, que sobrevoa (a) tudo, mesmo quando (esse) tudo não passa do nível mais rasteiro, aqueles olhos que enxergam longe, aquelas presas retráteis – recuam, talvez para não mostrar, de cara, do que são capazes, e avançam na hora certa –, aquele bico que, se nariz, bem poderia ser um sinal de astúcia, e, enfim, toda aquela sua pose imperial(ista): onde foi parar?
Não me venham, agora, rastejante jacaré, sem sequer ser tratado por um Crocodilo, querer que eu chore por causa de uma atitude piegas, indigna de uma ave tão sagaz, dessa águia. Choro, antes, consumidor de folhetim barato, por gêmeos, por gêmeas que, sem que se espere por isso (como nos bons folhetins que nos pegam de surpresa, forçando lágrimas imprevistas no meio de um sorriso de vitória), sendo destruídos(das) pela força, maligna mas inteligente, de um vilão, oculto nas sombras, deixando-nos a impressão de que é feio, conduzidos que somos, pela mão manipuladora de um bom novelista, a acreditar que é justamente para se vingar do mundo, por causa de sua feiúra (que culpa temos nós?), que se atirou assim sobre as pobres gêmeas – embora, saibamos, pela história, que são meninas ricas e, como águias, tantas vezes olhando tudo do alto.
Sinto por elas, por essas gêmeas, construídas pelas mãos experientes de um demagogo para serem firmes torres de uma história edificante, até, pelo menos, que um crítico, como se fosse um perito em obras desse gênero, achasse, trazendo isso a público, os buracos comprometedores. Mas, a essa altura, quem lê e gosta do que lê, pouco se importará que os tais buracos se revelem crateras para as quais não se pode fechar os olhos, porque há delícia em, junto com as gêmeas, ir tão alto, mesmo que nunca saiamos do nosso nível tão terreno (e daí para baixo), delícia semelhante a de ir ao chão, quando – coitadas das gêmeas – elas caem.
Todo folhetim que se preze, para prender o leitor, faz o mocinho, a mocinha, um deles, sofrer, página atrás de página, preparando a grande revanche, quando o vilão, afinal, terá sua face (monstruosa) exibida em cadeia internacional. Mas, e isso é outro truque dos manipuladores, o mal pode, ao contrário do que tanto gosta nossas aspirações cristãs, ter uma face bela – e há cristãos que vêem nisso o reforço de sua crença, argumentando que o mal sempre se apresenta assim, belo, para seduzir os que insistem no “terreno”. Em caso assim, lamentar as gêmeas? saudar o mal? achar, subitamente, buracos onde tudo parecia uma estrada celestial? ou, simplesmente, chorar de raiva por ter-se deixado levar, como se diante da mais terrível realidade, por uma ficção digna de uma águia dos folhetins?
quinta-feira, junho 12, 2008
UD END DAS LOVE HISTÓRIAS
 oda história de amor termina numa tragédia. E tragédia é um desses substantivos – e estes são poucos – que parecem rejeitar adjetivo como companhia, especialmente se for “grande”, não sendo diferente quando “pequena”, porque essa dimensão do trágico só é mesmo possível ao espectador da tragédia, capaz, por mecanismo de comparação em que pode entrar sua própria experiência pessoal, de mensurá-la, luxo(?) a que não podem se dar os que, metidos nessa, mal conseguem entender o que (lhes) está acontecendo.
oda história de amor termina numa tragédia. E tragédia é um desses substantivos – e estes são poucos – que parecem rejeitar adjetivo como companhia, especialmente se for “grande”, não sendo diferente quando “pequena”, porque essa dimensão do trágico só é mesmo possível ao espectador da tragédia, capaz, por mecanismo de comparação em que pode entrar sua própria experiência pessoal, de mensurá-la, luxo(?) a que não podem se dar os que, metidos nessa, mal conseguem entender o que (lhes) está acontecendo.Dito assim, sem o romantismo que se associa, comumente, a histórias desse gênero, isso é como desfazer uma fantasia, a que envolve o Amor, suas histórias, algo que soa a crueldade sem razão, considerando que já há tão pouco para se fantasiar, com o real insistindo em se sobrepor, chegando mesmo a se fazer passar, fantasiado disso, por ilusão fantástica. E onde, afinal, encontra-se a tragédia de uma história de amor? Parece-me tão à mostra! Se não em algum trecho entre o começo da história e o fim do amor, certamente, no simples fato de que, em algum momento, o amor vai terminar, levando consigo a história, mesmo que deixe lembranças – e, por vezes, são estas que fazem com que sintamos uma tragédia grande ou pequena.
Talvez, agindo aí a razão, mesmo que contrariando a lógica, no sentido de achar alguma saída, diga-se que nem toda história de amor termina, só acabando (e isso não é terminar?) quando, havendo ainda história e amor, seus personagens é que se findam. E dizem ainda, transgredindo um pensar mais rigoroso, que o sabor de uma história dessas está, justamente, na presunção de que, algum dia, há-de acabar, percebendo-se, neste caso, que, querendo-se dizer o contrário, terminou-se por concordar com o fim a que estão destinadas as histórias de amor, dando, no entanto, como se, teimosamente, não se quisesse dar a mão à palmatória, a impressão de que seu fim é o preço – até baixo – que uma história cobra pelo benefício do amor.
Quanto às histórias de amor, trágicas em si, pela natureza que lhes é própria, essas mesmas que terminam (e não custa repetir: o fim é sua tragédia essencial) de forma trágica, sendo uma tragédia o que determina a outra, são tão trágicas, que, como dois inimigos que se separam, consensualmente (não sem muita briga), indo cada qual para um lado diferente, com o intuito de evitar um confronto fatal para ambos, e acabam, completando um círculo, dando de cara, novamente, um com o outro, chega a ser risível: trágica como é toda alegria que não alcança o mínimo para, ao menos, simular um desenho sorridente a repuxar para cima o canto dos lábios; dolorosamente engraçada como é toda tragédia que, pesada demais a mão do autor da história, indo além do humanamente suportável, anestesia a própria dor que causa, matando a si mesma, já que o trágico se vale da dor para se expressar.
É por isso que os que sofrem calados suas próprias tragédias, negando essa cena aos espectadores do trágico alheio, são incapazes de, sabendo do fim iminente da história, embora desconheçam quando, corajosamente, acreditarem no amor: tragédia aos olhos dos que ainda crêem no amor, dolorosa piada aos olhos dos que, semelhantes, igualmente se calam.
sábado, maio 03, 2008
A MÃE DE TODAS AS COLAS

 ão é nenhuma coca-cola: e não era mesmo para ser. E se a coisa esquentar, se for preciso dar um refresco para retomar o gás, antes, uma pepsi – com bastante gelo e limão, este, não muito.
ão é nenhuma coca-cola: e não era mesmo para ser. E se a coisa esquentar, se for preciso dar um refresco para retomar o gás, antes, uma pepsi – com bastante gelo e limão, este, não muito.Alguns auto-outorgados, outros feitos assim à própria revelia e pelo reconhecimento alheio de sua importante participação nesse ato de criação, embora não estejamos, rigorosamente, falando de teatro, há vários presumidos pais para o cinema: desde Thomas Edson (quem há-de negar que foi mesmo ele quem nos deu, a todos, a luz?), uma espécie de pai intelectual, mesmo antes de surgirem as primeiras teorias sobre o cinema, até, deixado, o cinema ainda em seu alvorecer, esse Alva, outros, como Méliès, os irmãos Lumière (numa experiência, avant-la-lettre, de paternidade compartilhada), sem nos esquecermos, nessa enumeração, daqueles que, vindo depois, tudo ainda carente de idiossincrasia, deram ao cinema um sobrenome: Griffith, Einstein, Ford, Wilder...
Mas, tomando como base a (nossa) experiência humana (e o cinema é uma, mesmo quando se diverte, e a nós, com desenhos animados, mesmo quando se desvia, desviando nossa atenção das coisas deste mundo, para as ficções além-humanidade: seja como for, sempre nos reconhecemos nele), com pais de sobra, esse filho-da-mãe, por mais pudico e moralista que possa ser um cinema, é mesmo filho de quem? Qual o nome da mãe?
De saída, é difícil se estabelecer uma maternidade. Com o tempo, surgiram nomes (e sobrenomes) que não deixam nada a desejar, ainda que, também atrizes, possam, essas mães, ser (ainda) muito desejadas.
Joan Crowford, pelo que eu sei, não é uma dessas, ainda que tenha ajudado muito para que o cinema mostre-se com pose, posando de “grande”. Embora tenha sido – e não buscou, jamais, esconder isso em uma biografia fictícia, tão ao gosto de sua época – uma “mulher qualquer” em certa fase, acabou subindo na vida. E se não foi mãe do cinema, este lhe deve, eternamente, alguns dos seus melhores momentos de vida.
Mãe (de “verdade”), dentro de uma história mais estritamente humana, adotada sua Christina, viu-se, atriz das melhores, personagem de um livro de memórias: em que pesem uma ou outra passagem assim-assim (e quem liga para passagens assim?!), o que prende mesmo o leitor (e espectador?) são as passagens em que a mãe surge, como num drama verdadeiro, má: até a podemos ver, com seu rosto anguloso, comprido, olhos inequívocos (sem dúvida), e sobrancelhas desenhadas, num arqueado que lhe empresta, sem favor, um ar de quem está, mesmo quando no lar, eternamente, num set, pairando acima de todas as outras estrelas.
A essa altura, um refrigerante talvez se faça necessário, seca como já se deve estar com a boca, de tanto me “ouvir” falar: e é aí que entra a Pepsi (& Co.), herança do marido milionário: Crowford, tantas vezes poderosa de mentirinha, agora, de verdade, é dona do poder. Como, no entanto, ensina-nos qualquer reles refrigerante gaseificado, o que não é consumido em seu próprio tempo, na crença de uma vida eterna (as estrelas caem nessa armadilha), há-de, mais cedo ou, impontuais essas atrizes, um pouco mais tarde, perder o gás.
Então, a vida passa a ser não mais do que uma água com açúcar, enjoativa, mesmo quando se tem de lidar com uma filha daquelas, e os filmes, perdido seu efeito efervescente, têm-se de contentar, e nós com eles, com uma xaropada só. E se for um desses filmes sobre a relação mãe-e-filho(s), as verdades parecem inverossímeis, uma coisa que, temem os produtores, o público (mães e filhos) não hão-de engolir, para sorte do vendedor de pepsi ou de uma coca, colal qualquer. Nesse caso, restam os roteiros inspirados em qualquer coisa, nada originais, com relatos de filhos a respeito de seus pais: pura inverossimilhança para um leitor, porém, visto na adaptação para o cinema, apesar do exagero que lhe é próprio, em closes antinaturais, parecem (ser) a vida real.
E, tecnicamente, uma ilusão, todo cinema será sempre (de) ficção. Naturalmente, boas, como as quer certa ficção com ares de aprofundada pesquisa acadêmica ou filosofia imparcial, tomando, claramente, as dores das mães, estas, indo ao cinema, identificam-se, de imediato, com qualquer mentira que se conte a seu respeito, numa generalização em que se sentem, quase nominalmente, apontadas, chegando a rir, no escuro da sala, algo envergonhadas, como se todos os espectadores, vendo o filme, reconhecessem-nas como a dona daquela história. No entanto, mesmo que digam que existem “mães assim”, deparando-se com dramas de uma verdade que não dá refresco, nem alivia a barra (da saia) das mães, fazem-se, repentinamente, filósofas revolucionárias ou acadêmicas aguerridas, na defesa do que dizem ser a boa reputação das mães, defendendo, no íntimo, a manutenção da imagem que, mães em geral, fazem de si mesmas.
E vai que entre tais mães surge uma filha – “de verdade” ou “de mentira” – e, num relato, em escrita suspeita, provavelmente fantasma, com assustadoras passagens, expõe, longe da beleza mítica dessa materna figura, os bastidores da família: a mãe afunda em si, desaparecendo em sua vergonha; a filha, se bem vendidos os (seus) direitos, afunda numa boa grana (e talvez, depois, adoce a boca da mãe); e nós, consumidores de tudo, pagamos o pato.
quinta-feira, abril 03, 2008
EU ERA DA INOCÊNCIA

 assemos longe de um duelo. É passado já o tempo dos duelos, ao menos, daqueles cheio de rituais, aos quais se ia, padrinhos e assistentes, vestidos a caráter, e duelistas trajando seu próprio caráter, discutível sob um ponto de vista anacronicamente, do nosso ponto de observação, contemporâneo, pacifista, com o argumento moderno, mas pouco levado a sério, de que a palavra, que é também uma arma, e das mais poderosas, é capaz de resolver as querelas, sem se disparar um só tiro, sem uma só estocada de florete – como se uma palavra “corretamente” disparada não pudesse ferir, profundamente, mesmo ferir de morte, ressalvado o poder ressuscitador dessa mesma metáfora; como se uma palavra manejada com talento de esgrimista, mesmo que por um diletante nesse esporte, mesmo que um aprendiz ainda, desde que aplicado, nessa arte, não pudesse, atingindo – touché! – um ponto vital, não fosse capaz de provocar danos irreversíveis, mesmo sem o risco de morte, sendo que a cicatriz disso, inapagável, seria justamente o portar a marca de uma ferida da qual não se morreu, carregando consigo esse desonroso diadema de uma palavra que se teve de engolir, não se sendo forte o bastante para retrucar com outra, se não mais forte, garantindo assim, para si, a vitória, pelo menos uma palavra em pé de igualdade, fazendo com que a ferida, e a vergonha, seja(m) partilhada(s).
assemos longe de um duelo. É passado já o tempo dos duelos, ao menos, daqueles cheio de rituais, aos quais se ia, padrinhos e assistentes, vestidos a caráter, e duelistas trajando seu próprio caráter, discutível sob um ponto de vista anacronicamente, do nosso ponto de observação, contemporâneo, pacifista, com o argumento moderno, mas pouco levado a sério, de que a palavra, que é também uma arma, e das mais poderosas, é capaz de resolver as querelas, sem se disparar um só tiro, sem uma só estocada de florete – como se uma palavra “corretamente” disparada não pudesse ferir, profundamente, mesmo ferir de morte, ressalvado o poder ressuscitador dessa mesma metáfora; como se uma palavra manejada com talento de esgrimista, mesmo que por um diletante nesse esporte, mesmo que um aprendiz ainda, desde que aplicado, nessa arte, não pudesse, atingindo – touché! – um ponto vital, não fosse capaz de provocar danos irreversíveis, mesmo sem o risco de morte, sendo que a cicatriz disso, inapagável, seria justamente o portar a marca de uma ferida da qual não se morreu, carregando consigo esse desonroso diadema de uma palavra que se teve de engolir, não se sendo forte o bastante para retrucar com outra, se não mais forte, garantindo assim, para si, a vitória, pelo menos uma palavra em pé de igualdade, fazendo com que a ferida, e a vergonha, seja(m) partilhada(s).Com essa época que se foi, quase digo que se foi embora, juntamente, a era da inocência: isso, porém, seria uma demonstração pueril de uma inocência que já não me é permitida, na medida em que inocência nenhuma era alguma conheceu, de verdade, só assim se dizendo numa comparação, indevida, de uma era, que tem suas próprias características, com outra, com suas próprias idiossincrasias. Fato, no entanto, é que, tenha sido predicado de outra era, com mais tempo para mesuras, com menos competição entre gêneros (é verdade que isso escorado na prevalência de um gênero sobre o outro), o cavalheiro cedia sua vez, seu lugar (sem, contudo, abandonar sua posição inabalável de gênero prevalente) à dama, até, diante de uma argumentação dela (tacitamente, os cavalheiros não admitiam que elas pudessem tecer argumentos, o que já demonstra que inocentes eles nunca foram), admitindo, da boca para fora, seu próprio erro, em favor da dama, ainda que isso o fizesse, num reverso da face pública do seu ato, gozar, intimamente, da situação, acentuando, só para si, o erro da mulher: também, haveriam de dizer (se não hão ainda de falar assim), o que se poderia esperar de uma...dama?!
Não cedo. É tarde para isso. Numa competição, numa espécie de esconde-esconde no mato, sem que isso signifique, na moita, um jogo de lasciva ludicidade entre gêneros diferentes, em que se sagrará vencedor o bicho que melhor se esconde nesse mato (cutucando bem, desse mato até que pode sair cachorro), sou o ganhador, de cara – embora a vitória seja dada justamente a quem menos exibe a sua.
Serei um inocente perdido em meu próprio tempo, um viajante extraviado de outra era, ou serei, entre todos os cavalheiros, o mais ladino, aquele que, demonstrando uma fraqueza atávica para armas de fogo, atira palavras, com mira de impressionar num canhoto desajeitado, o mesmo que, sem talento para manejar uma faca, que dirá uma espada, arrisca-se com o lápis, examinando, num golpe de olhos, o adversário (porque, para um cavalheiro, é duro admitir que seu contendor é de outro gênero), e, com precisão quase cirúrgica, riscando, ali, a palavra exata?
O que sou, não sei. O que sei é que tudo isto soa a mais um tiro que saiu pela culatra. Também, quem mandou eu não me empenhar mais nas aulas de tiro ao alvo, preferindo dar mais atenção à elegante dança da esgrima de palavras?!
sexta-feira, março 21, 2008
OS DEZ MANDAMENTOS DO CINEMA
Para nosso desespero, contrariando fantasias infantis que faziam de Deus um eterno velho, com uma doçura improvável num velho-para-sempre, insuportável em qualquer um, eternamente assim, os deuses envelhecem, e não permanecem, para sempre, Stanley Kovalski, decaindo, com bochechas flácidas, num Dom Corleone qualquer: eles, ao menos, podem ser um PODEROSO CHEFÃO (quem há-de querer os contrariar?!), enquanto que nessa nossa humanidade, nada branda, o máximo que se consegue, numa experiência de sublimação, é, pai, exercer, domesticamente, nesse ambiente cada vez mais exíguo do próprio lar, nem sempre a casa própria que se pediu a Deus, uma tirania baseada no argumento, sempre forte, do “enquanto eu puser comida nesta casa, quem manda aqui sou eu”.
E para aqueles que batem o pé, dizendo que deus mesmo é Orson Welles, well, em verdade, em verdade, eu vos digo: Orson foi o diabo!
Vão é um esconderijo que serve para que, na hora do aperto, filme no auge,quando a fisiologia aperta, sem dó, desaperte-se, às escondidas, num cantinho, um olho na tela, vibrando com os momentos de ápice da tensão, outro no... Bem, escuro como está, não é possível acertar no alvo, sendo uma injustiça, em tal situação, cobrar-se mira precisa. Talvez não precisasse isso, agüentando só mais um pouquinho: o problema é que se todos agirem assim, passada a tensão, todos hão-de, ao mesmo tempo, correr para aquele vão, encimado, em letras gritantes, por seu nome.
Já se foi o tempo em que cinema era hábito domingueiro – com os domingos mais concorridos, quando muitos deixaram de render honras a Deus em Sua Casa, há um fluxo cada vez maior de penitentes, de pacientes espectadores, na fila, como se esperassem entrar no reino dos céus, até reclamando de que aquilo está um verdadeiro inferno, e é preciso guardar mais para pagar o ingresso desse dia, sendo mais econômico ir mesmo é durante a semana, como se essa ida fizesse parte das tarefas do dia-a-dia, deixando o domingo como um curinga: de der, deu; se não, DVD.
E a confusão está estabelecida: já não se sabe, ao certo, quem é mãe, quem é pai, já que os papéis se misturaram todos, e não por culpa de um “miscasting” ou de transgressões de papéis sexuais, e sim porque ora o pai é, além de viver este papel, a própria mãe, ora é esta (alegando sempre um acúmulo de papéis) que se faz pai. E há momentos em que, não sabendo, exatamente, o que deve ser, é-se pai, quando “O GAROTO” esperava uma mãe, ou se é mãe, quando o mesmo preferiria estar sozinho.
Se, contudo, isso já aconteceu, não há razão para se desesperar, já que, sob outro nome, pecar-se-á mesmo contra o oitavo mandamento: e eu não estou mentindo! Todas aquelas idas, enfrentando filas, ao cinema, para ver, repetidamente, RAMBO I, RAMBO II, RAMBO III, com a desculpa, para si mesmo, de que só fez isso para (ora!) “matar o tempo”, pode ser minimizada: jure, de pés juntos, mão (direita) sobre o peito (esquerdo), que nunca viu Stallone mais gordo.
Sinto muito! Essa história de castidade já deu o que tinha de dá, embora continue rendendo, valendo-se de certas prisões particulares em que vivem até os mais livres, os, aparentemente, mais libertos do cinto – e é um grande engano, já percebido pelos produtores, que vêem neles um mercado sempre promissor, acreditar que os libertinos, para os quais a castidade não faz nenhum sentido, vivem fora das grades: também eles cultivam suas celas pessoais, por mais que encham suas paredes de pôsteres-de-fantasia. E sabe-se que, se fotografias paradas são capazes de seduzir com uma liberdade provisória, as imagens em movimento (e que movimentos!) acenam com uma fuga em massa, espécie de experiência grupal.
7°) NÃO ROUBAR

Aí, a coisa pega! E pega sem autorização. Pega o que não lhe pertence, por direito, lançando mão de teorias desusadas de um socialismo que se rendeu às leis de mercado. Por vezes, a cena é tão patética, que, passados para trás, terminada a sessão, bradamos: isso é um roubo! Não reclamamos, contudo, quando testemunhamos, caladinhos, um roubo monumental, daqueles que merecem o adjetivo de cinematográfico, calando fundo, em nós, um sentimento de querer ter participado daquele bando, hoje, imaginamos, vivendo lá para as bandas de um paraíso qualquer: pode ser qualquer, mas é paraíso.
8°) NÃO LEVANTAR FALSO TESTEMUNHO
Agora, me digam, com sinceridade, que graça teriam todos aqueles deliciosos filmes de tribunal, se não fossem as testemunhas – as falsas, despertando nosso ódio, ainda que reconheçamos nelas algum motivo, compreensivelmente, humano, e as “verdadeiras” testemunhas, as que, quando parece não mais haver tempo hábil para isso, nenhuma salvação possível, surgem, às vezes, do nada (mas, a essa altura, que nos importa a verossimilhança!?), para redimir o injustamente culpado. Acreditem, não raro, nesses filmes, são as falsas testemunhas que são a salvação...da lavoura.
No entanto, se o PECADO MORA AO LADO, e tem os olhos, os lábios, as pernas e os amarelos cabelos de Marilyn Monroe, ou se se mantém com aquele ar distante, como se não tivesse nada a ver com isso, olhando só de canto de olho, ou, num cálculo fácil, assume-se o ônus, em nome do prazer. E, para aquietar a culpa, numa típica chicana forense, muda-se, se possível, para a casa anterior. Assim, em vez de desejar a mulher do próximo, pula-se, sem pular, rigorosamente, a cerca, essa casa, como num jogo de ludo, é vai-se direto para a seguinte, onde, é sabido, mora o pecado – e a louraça.
Se é verdade que olhar não tira pedaço, como é possível se comer com os olhos? Há quem só coma assim, olhando as coisas alheias, mesmo que tenha, diante de si, como um pão nosso de cada dia, o que chama de seu, embora, por mais coisificada, possa não ter legítimo direito sobre isso. Não raro, as coisas que nos são, legitimamente, próprias perdem, com o tempo, o poder de nos dar continuado prazer, como se este estivesse menos na coisa, em si, e mais em sua novidade. As alheias, por mais que finjamos não ter nada com isso, exercem um fascínio todo seu: e até esse fascínio, por ser “seu”, fascina-nos, fazendo com que o cobicemos, mesmo que não saibamos o que, se viermos a tê-lo, fazer com ele. Ah! é meu: então, posso fazer (com ele) o que quiser, até não fazer nada “com ele” – é meu
sábado, março 08, 2008
COMO ISSO IR-RITA!
 rregaçar talvez seja um gesto de impetuosidade juvenil, quase uma (pedagógica) exibição de puberdade, esse tempo em que se pode, quem assim pode, manter-se à margem do trabalho, seja ele qual for, qualquer um que, deixando a alcunha genérica de tarefa do dia-a-dia, alcança o status de trabalho – labor, para quem prefere variar, e não de trabalho, mas os nomes que se lhe dão, mais especialmente do trabalho braçal, aquele em que entra o exercício dos músculos.
rregaçar talvez seja um gesto de impetuosidade juvenil, quase uma (pedagógica) exibição de puberdade, esse tempo em que se pode, quem assim pode, manter-se à margem do trabalho, seja ele qual for, qualquer um que, deixando a alcunha genérica de tarefa do dia-a-dia, alcança o status de trabalho – labor, para quem prefere variar, e não de trabalho, mas os nomes que se lhe dão, mais especialmente do trabalho braçal, aquele em que entra o exercício dos músculos.Já arregaçar as mangas, mesmo naqueles que, não exigindo o trabalho o contrário, trabalham em mangas de camisa, é um esforço deliberado, ressalvando-se as ocasiões em que tal arregaçar não passa de um gesto apenas eloqüente, sem, no entanto, haver esforço correspondente.
Arregaçar também é, numa metáfora que soa a eufemismo, pelo que, aparentemente, tenta suavizar, um ato, tipicamente, masculino. E não seria falácia, embora haja aí certa esperteza retórica, nesse jogo de palavras, associar isso a uma fálica postura: e disso gostam os púberes, substituindo,sem se darem conta do negócio, a carne pelo verbo, como os que, com o tempo, depilam-se, mas nem assim conseguem voltar atrás, e, carne cara agora (até o músculos: principalmente eles, tão valorizados!), voltam-se para o verbo, numa ação sem maiores conseqüências sintáticas.
Gilda, que numa foi homem (tendo sido, no entanto, macho o suficiente para suportar a dor, que nenhum macho provavelmente suportaria, de retirar, fio a fio, muitos cabelos dos que, naturalmente, quase lhe cobriam a testa, nesse redesenho de uma face, nessa construção de um mito), essa mesma Gilda que, na nossa fantasia (mesmo na daqueles que, entre nós, não abrem espaço para fantasias), parece já ter nascido aquele mulherão, e vestida a caráter, com longas luvas, como se arregaçasse as mangas, ela tira, num fálico sincronismo musical (sutileza na qual nenhum homem ultrapassa a mulher), as luvas: três-quartos que parecem uma eternidade inteira, não se sabendo muito bem se isso é dispensável, pela prazer adiado, ou se é o próprio prazer, em si, por esse mesmo prolongamento.
Exagero, certamente, coisa, é provável, de homem dado a marketing, dizer que nunca houve uma mulher como ela, como Gilda, como se fosse possível, a qualquer homem, passar em revista todas as mulheres, a menos que para eles isso seja apenas o folhear de páginas carregadas de mulheres que, arreganhadas, às vezes, sem saberem o porquê, vestindo somente luvas três-quartos, jamais chegariam aos pés de Gilda: até porque, salvo opções pessoais, só os homens disso poderiam tirar algum prazer. Mas, homens, em geral, temem ajoelhar-se (temem que sejam obrigados a rezar), quanto mais a ficar aos pés, temendo, nesse caso, gostar tanto dessa posição, que não queiram mais se levantar.
Mas, se são assim, bem poderiam dizer, como Gilda (Put the blame on mame!), que a culpa é toda das mães, chamem-se Gilda ou não, tenham ou não cabelos nas ventas, tenham já deixado algum homem no chão ou arreganhem os dentes para um, louca(s) para um arregaçar, cujo sentido não revelam, nem para si mesmas, ainda que se chamem Gilda, porque, agora, independentemente do nome que tenham, dizem-se mães.
sábado, março 01, 2008
HAIR: ESTOU CARECA DE SABER!
 elas mesmas, impressiona que todos as vejam, irmãs que não negam ser, como iguais: e os que surgem, apontando diferenças, parecem-lhes sempre querer buscar um meio de perceber o que os outros não notam, sublinhando, contudo, o que, elas próprias, crêem ser suas semelhanças, passando ao largo do que, realmente (se a palavra couber aqui), as faz tão diferentes. No geral, ninguém acredita que não sejam gêmeas; mais até: que, em vez de duas, por mais semelhantes, acham que são, cada uma, metade de uma só. E isso porque sequer incluímos – ainda não – seu irmão que, apesar, gramaticalmente, de gênero oposto, é tido como um pedaço desse inteiro, agora já dividido em três partes.
elas mesmas, impressiona que todos as vejam, irmãs que não negam ser, como iguais: e os que surgem, apontando diferenças, parecem-lhes sempre querer buscar um meio de perceber o que os outros não notam, sublinhando, contudo, o que, elas próprias, crêem ser suas semelhanças, passando ao largo do que, realmente (se a palavra couber aqui), as faz tão diferentes. No geral, ninguém acredita que não sejam gêmeas; mais até: que, em vez de duas, por mais semelhantes, acham que são, cada uma, metade de uma só. E isso porque sequer incluímos – ainda não – seu irmão que, apesar, gramaticalmente, de gênero oposto, é tido como um pedaço desse inteiro, agora já dividido em três partes.São todos (por questão de estilo, já que, em número, “elas” lhe superam, único masculino nessa história louca) filhos do Sonho – e não me perguntem com quem, já que, para nossa natureza interdependente, tudo deve nascer de dois, e diferentes entre si. Elas são a Fantasia e a Ilusão, enquanto ele, citado, aqui, por último, embora devam ter surgido ao mesmo tempo, é o Delírio.
Talvez alguém esteja a dizer, atribuindo-me, indevidamente, a paternidade desse delírio (apesar das afinidades oníricas, não sou o Sonho em pessoa), que isso bem pode ser apenas nostalgia, ou recrudescimento psicodélico, de uma época que cansou da onomástica mais convencional, indo buscar, na imaterialidade, o nome das novas gerações – geradas, muitas delas, em pleno delírio, em plena fantasia, em plena ilusão, tudo, claro, com a conivência paterna e algo promíscua do Sonho (de um mundo diferente: e melhor).
Algumas Ilusões, certas Fantasias, sem nos esquecermos dos Delírios, passado o tempo em tudo isso, se não era a imagem da normalidade, era uma necessidade, indispensável, como toda necessidade, para se crer em novas possibilidades e, não raro, apesar de uma aparente contradição, em “lucrativos” negócios, escondem sua origem: uns por causa da excentricidade de batismo, outros porque, pela associação, seu nome é já um registro de nascimento estampado na cara, remetendo a décadas que ficaram para trás.
Nem todo Delírio, Fantasia, Ilusão nasceram lá pelos 60, pelos 70. Na verdade, estes são, nominalmente, o plágio do que há de mais antigo no mundo, podendo recuar mesmo ao seu começo - se não, vejamos: criar um mundo não é fruto de uma alimentada fantasia? pôr mãos à obra não é delírio? e acreditar no que fez, dando-se por satisfeito, é ou não é a mais pura ilusão?
Longe o tempo de criança, hoje em dia não é mais tão comum ver Fantasia e Ilusão passeando por aí de mãos dadas, cabelos trançados e arrematados por um laçarote. O próprio Delírio, um dia, com cabeça nas nuvens, agora, se orgulha de ter os pés no chão. Mas, por mais que as coisas mudem, por mais que o mundo não tenha melhorado, que toda aquela “fumaceira” – e fumaça é sempre bom indício de fogo – não se tenha configurado no incêndio de um velho viver, cheio de separações oficiais (e outras não), e no conseqüente surgimento, dessas cinzas (delírio? ilusão? fantasia?), de uma fraternidade sem fronteiras, Fantasia, Delírio, Ilusão não deixam de ser o que são, assim, de uma hora para outra, negando, simplesmente, o próprio nome, nome próprio vindo de substantivos abstratos, tendo de carregar consigo, por mais que a isso chamem de peso, a natureza que lhes é indissociável.
Não se pode lhes negar certa solidariedade. Por mais que à nossa boca venha, com facilidade exemplar, um discurso de que cada um deve ser o que é, impondo-se, mesmo contra a maré, nem sempre nos sentimos confortáveis em, publicamente – do jeito que nossa vida particular é, e cada vez mais –, apresentá-los como amigos; evitando, não raro, que nos tomem sequer como seus conhecidos.
E tudo isso nos leva a concluir que é preciso ser forte para resistir contra todas as adversidades; especialmente, se se tem de lutar contra a própria natureza, neste mundo-solo, longe o tempo dos coros-paz-e-amor: e onde outro lugar mais hostil, tudo tão terreno, para quem é Delírio (por favor, chamem-me, diminutiva e carinhosamente, de Del!), para quem é Fantasia (para você, ela é Fan), para quem é Ilusão (Lu – e prefiro ostentar este meu nome inapreensível a ser chamado(a), em público, de Lulu: coisa mais infantil!).
Não falamos do Sonho. Mas, mesmo os que não crêem em nada (disso) sabem, de cor, ainda que tenham esquecido o que vem depois, que...Em nome do pai...tudo é possível. E foi Ele Quem deu nome a tudo, pelo menos, no começo, quando só verbo havia e o mundo ainda carecia dessas abstrações que, apesar de muitos cabelos (o que não é o meu caso), não nos saem da cabeça: Delírio, Fantasia, Sonho...
segunda-feira, fevereiro 18, 2008
O LANTERNINHA SUMIU NO ESCURO

 ode até parecer castigo, mas é só coisa de cinema: ilusão que pode levar às lágrimas, por isso ou por aquilo, sem que se sinta na própria carne o arrepio da dor, o frêmito do prazer. As salas (às) escuras são assim para que se se concentre mais na claridade da fantasia - o pior dos castigos para quem conseguir a vitória(?) de submeter a vida ao império do que chama de Realidade (assim mesmo, com essa reverência maiúscula, como se falasse de um nome próprio, talvez o próprio nome, quando o que repete não passa do apelido, algo zombeteiro, que se dá à impressão que o devedor causa nos olhos dados a panorâmicas espetaculares).
ode até parecer castigo, mas é só coisa de cinema: ilusão que pode levar às lágrimas, por isso ou por aquilo, sem que se sinta na própria carne o arrepio da dor, o frêmito do prazer. As salas (às) escuras são assim para que se se concentre mais na claridade da fantasia - o pior dos castigos para quem conseguir a vitória(?) de submeter a vida ao império do que chama de Realidade (assim mesmo, com essa reverência maiúscula, como se falasse de um nome próprio, talvez o próprio nome, quando o que repete não passa do apelido, algo zombeteiro, que se dá à impressão que o devedor causa nos olhos dados a panorâmicas espetaculares).Deixo, então, meu olhar vagar, e até lhe digo, olhos fixos num mar qualquer de estúdio: (nouvelle) vague!, mesmo sabendo que para não perder a palavra, abandono, a tempo, o tempo, abstração de tão indefinível gênero, porque, aqui, o cinema é outro. Ah! se nossa vida fosse conduzida pelas mãos de “maestro” (sem batuta à vista) de um Visconti, único, não importando o quanto de ensaios isso nos custasse, ainda que tivéssemos de repetir a cena à exaustão, a ponto de um beijo, ainda que um leve roçar de lábios na mão, chegar à perfeição – coisa rara, quando não se o traz na ponta da língua –, apesar do nada de tempo que essa produção vital nos reserva para ensaios, não sendo nós nenhum Montaigne, um caso, à parte, que fez desses (seus) Ensaios o melhor de sua vida quinhentista.
Se isso se desse - pura fantasia! -, seriamos aristocratas todos, até os mais serviçais, talvez estes mais, com todo aquele orgulho de servidores fiéis -“ma non troppo”. Seríamos nobres ou bons burgueses (e a estes e àqueles, as maldades são não só perdoadas, como reforçam o repertório de charme da própria classe, e do qual só não digo “discreto charme” para não confundir cinebiografias: bons ou maus burgueses, pequenos jamais). Seríamos homens e mulheres (por mais revolucionário que quisesse ser a fita), em pares, ímpares na infidelidade, quando esta é só mais um ítem no compêndio de ritos sociais, às vezes, praticados com certo enfado para preservar a classe da invasão impiedosa dos pecados que devastam, sob nome demasiado genérico, prazeres tão diversos; sendo mulheres e homens, poderíamos experimentar o paroxismo das paixões – pela diversidade abarcada numa palavra tão rasa, quase uma forma a mais de pecado, sem, no entanto – coisa que irá desagradar a espectadores realistas, cônscios do dinheiro que investiram nessa sessão, diversão pragmática, para terem de engolir tamanha ilusão – , desarrumarmos um só fio de cabelo, e os fios, eventualmente, fora do seu lugar original, raiz de todo penteado, não é erro, quando não se terminou a cena no mesmo dia, da continuista (o feminino me parece gênero mais apropriado a continuidades, seqüências nem sempre tão interessantes quanto o longa inicial, gênero dado a recomeços formais que escondem, pelo menos no escuro das salas, uma mesma reta, interrompida, de tempos em tempos, pelo fio cortante da fantasia de se poder contar, à vontade, novas e novas histórias, ainda que seguindo cânones antigos de se “fazer fita”).
Se nessa história há um baile: figurinos impecáveis. Se há música: o sublime em concerto – e se houver piano, eis aí a cauda de um vestido que, altivo, mesmo numa mulher baixa(!), se arrasta aos pés de uma grande dama, para a qual os cavalheiros abrem caminho, deixando-se levar no seu rastro oloroso. Se são inevitáveis à economia do drama alguns gritos: baixem os olhos, espectadores de escândalos! esses mesmos que ocupam, ordinariamente, as primeiras filas, acostumados a crises que se avizinham ou que se dão em suas próprias salas, às claras, telecinadas. Se há troca de olhares, para que palavras?! Se há duelo: “touché”! Se há toques: tocata. Se há cenas de quarto (de alcova, mais apropriado): camerata. Se há morte: que seja em Veneza. Se há (ainda) algum inocente: culpado! Se há segredos guardados, cochichados, não perguntem à pessoa ao lado, espectadores de banalidades que não se agüentam calados, o que ele (ou ela) quis dizer com isso – não era mesmo para ser escutado. Se há vidas bem construídas, sólidos edifícios de vários andares, sustentados(das) pela artificialidade (não totalmente carente, esse vazio, de beleza) de uma solidão que se reafirma, aos brados, sem desejar ser ouvida, como voluntária, voluntarioso hábito de brincar consigo mesmo de esconde-esconde num armário em que só cabe um de cada vez, se isso: então, desmoronamento e reconstrução, não se sabendo muito do quê, e por esse motivo, espectadores de obras convencionais, amantes sem pudor de um estilo, bom ou não, que já não ameaça com surpresas, não percam seu tempo, recorrendo aos catálogos do já-feito, porque toda vida que se reergue (moral à parte, pois nos escombros há também o belo, íntegro até) é sempre, essa vida na ponta de uma grua, novidade, embora, em algum ponto, vá repetir os mesmos erros de cálculo que emprestaram aos materiais, tão perfeitos antes de serem usados, resistência ainda maior que aquela que ofereciam.
Se tudo for preto e branco, nada de se colorir com a imaginação, pois aí o que seria arte da fantasia se tornará um indelével borrão a cobrir as sutis tonalidades de vidas assim. Se cinza essas anotações, a certeza de que só o que impregna os olhos, mesmo quando o tempo já não dá para se revisitar filmes antigos, é o que fica: tudo o que (se) diz permanente, sempre à mão, é só ilusão. Se se tenta catalogá-lo, isso é fuga – e meus olhos estão já cheios, sinal de que algo ficou e ainda me toca.
domingo, fevereiro 03, 2008
BACANA, CHIQUITO!

Aurora, ainda que se teime em se dizer que as mulheres são de lua, não é dessas, mesmo que, ao dar as caras, a depender da estação, a depender do dia, ainda esbarre com uma lua, já não tão dona de si, quanto era, provavelmente, há pouco, uma lua em despedida, por mais cheia que aparente estar, resquício, certamente, de um brilho tardio. Aurora é deusa, filha da Noite, da qual não se sabe que tenha, por vaidade – característica que é mais sincera nas mulheres, não lhes sendo uma exclusividade – usado, alguma vez, esmalte nas unhas, mas que tem, isso é sabido, mesmo que não haja registros de imagem, até colhidos sem sua permissão (os que mais agradam, hoje em dia), dedos cor-de-rosa, como lhes pintou o poeta, rapsodo que não pode ser chamado, simplesmente, de manicure, inclusive porque suas histórias passaram ao largo dos dedos, indo adiante, varando épocas, de boca em boca, esse correio que é capaz de deixar a mítica eficiência de Mercúrio no chão, apesar seus conhecidos pés alados.
Menos conhecida, Aurora também é irmã de Carmem – e esta, se é não filha da noite, é deusa, a seu modo. Carmem, e isso não é nenhum mito insondável, ainda que muitas vezes a origem da língua que nos é tão cotidiana nos surja como um mistério insolúvel, é o mais puro latim: é canto, é poema, enfim, são versos e mais versos.
Não se sabe – eu, ao menos, não – que Carmem tenha cantado em latim, tendo, no entanto, para além do nosso português, com inconfundível sotaque de um Portugal que lhe era íntimo, sendo-lhe assim já de berço, cantado em inglês, ainda com sotaque, eternamente, inconfundível, notável, a distância, tendo ela ido tão longe, que, ao tentar, outra vez, aproximar-se, ouviram no seu jeito de falar, o mesmo ao qual se deram ouvidos, sem reclamar, pistas de uma deserção.
Aurora nunca foi tão longe. Aurora, todo madrugador não ignora isso, atende ao rigor do relógio, parecendo mais burocrática, com uma pontualidade que parece não ser atributo da arte. No entanto, Aurora, se não o assunto mais cantado, e não só em versos, deve estar no topo, como uma lua que nunca diz adeus, mesmo quando de dia, fazendo do (seu) próprio céu o único limite, quando se trata de musas inspiradoras, ainda que, com o tempo, mulheres com dedos cor-de-rosa, pela ingenuidade que isso transmite, possam ter saído de moda, dando lugar a um, algo suspeito, encarnado nas unhas.
Se há versos, então, há Carmem, e não estamos falando da mais famosa de todas: a Burana – versos de Beuren, música de Carl Off. Carmem, por seu lado, rendeu versos, mas rendeu, e ainda rende, muito mais prosa($), não tendo sido, contudo, tão longeva quanto Aurora: e esta, mesmo que já não (nos) desperte mais, mesmo que não a reconheçamos de ouvido, ainda que não (nos) fale com sotaque estranho ao nosso comezinho disse-me-disse, permanece, dia após dia, pontualmente, embora varie de horário, sempre na dependência dos caprichos machistas de um sol-absoluto, mostrando, poeticamente, suas garras, na forma de eternos dedos róseos.
Que vivam ambas! Que a aurora nunca se desvaneça! Que possamos a enxergar, mesmo em meio à bruma de um dia eventualmente menos claro! Que Carmem nunca seja esquecida, ainda que reduzida a um torso tutti-frutti. E que Carmem – os versos, os poemas – não morram jamais, apesar de, há muito, o latim ter-se contentado, fora do âmbito de anacrônicas cerimônias, seculares ou não, com as lápides dos que nutrem, ainda em vida, a esperança de serem eternos, quando não por méritos próprios, pela estranheza que causa o estranho sotaque dessas palavras finais: Requiescat in Pax!
No mais, sem passaporte falsificado, é continuar perguntando, sem saber o quanto isso é verso, o quanto isso é Carmem: “O que é que a baiana tem”?!
terça-feira, janeiro 01, 2008
ET IN TERRA PAX

Eu não quero iniciar qualquer discussão, porque sei que, na falta de (um) consenso, isso abrirá uma porta para disputas; e nunca se sabe muito bem aonde isso pode parar – se parar. Mas não posso deixar de dizer que se a paz do mundo depender da boa-vontade dos homens, então: estamos feitos! E ao dizer isso, não o faço com ironia – não, ao menos, com aquela que se supõe, a princípio.
Estamos feitos, na medida em que isso vem ao encontro (vir “de encontro” é um passo seguro para uma possível guerra) a nossas aspirações, mesmo que não declaradas, mesmo até que as neguemos, pois nada agrada tanto à natureza humana que disputas. É verdade que isso, por si só, não leva, necessariamente, a uma guerra; porém, a experiência já nos deixa, disputa à vista, com o pé atrás, porque também não vale de muita coisa toda essa repetição de que quando um não quer... E nós sabemos que quando um quer, isso já é suficiente para se dar início a uma boa briga, às vezes, justamente, porque, querendo um, o outro não quer.
Tanto nos agrada guerrear, que sequer exigimos o cumprimento rigoroso dos protocolos convencionados, com a guerra sendo declarada formalmente, com toda a oficialidade, secundada por documentos em papel timbrado, para não deixar dúvidas, embora se conheçam guerras feitas à base de falsificações, com o selo real, se majestade houver, ou com as insígnias da república, se houver essa fantasia de bem-público, pertencente a todos, igualmente. Diante de nossos desejos, não vendo a hora de disputar, de brigar, já nos basta um bilhete, escrito apressadamente, com erros que envergonhariam mesmo aquela Soles grega, que acabou, a sua revelia, ainda que tenha muito cooperado para isso, por emprestar seu nome aos erros em geral: puros solecismos. E se a pressa for muita, nem bilhete: um grito, e a guerra está declarada.
Há guerras da porta para fora, de caráter público, e que encerram segredos que, por vezes, demoram muito para vir ao conhecimento de todos, já não havendo, a essa altura, muitos dos que morreram nelas, e morreram sem conhecer esses segredos. E há as guerrinhas (o diminutivo não lhes diminui em nada seu potencial bélico) bem mais domésticas, as que são, tipicamente, da porta para dentro, mas que, mais comumente, ultrapassam, aos brados, a soleira, revelando segredos até então privados, alguns dos quais tão privados, que foram “colhidos” no mais escatológico dos ambientes caseiros.
Homens de boa-vontade, garantam-nos essa paz que descansa os espíritos, após uma guerra – dentro ou extramuros! Homens, mesmo que sem tanta vontade, quanto mais da-boa, ajam, com a vontade que lhes restar, para que não sucumbamos (mas, que tipo de homem eu sou, para pedir isso?!) a essa paz de cartão-postal, de pores-do-sol devidamente retocados, de ocasos forjados, e não ao acaso, mas de caso pensado, ainda de dia, lançando mão do efeito (de) noite-americana, com uma escuridão azulada que cai, de repente, com sol ainda a pino!











.gif)







